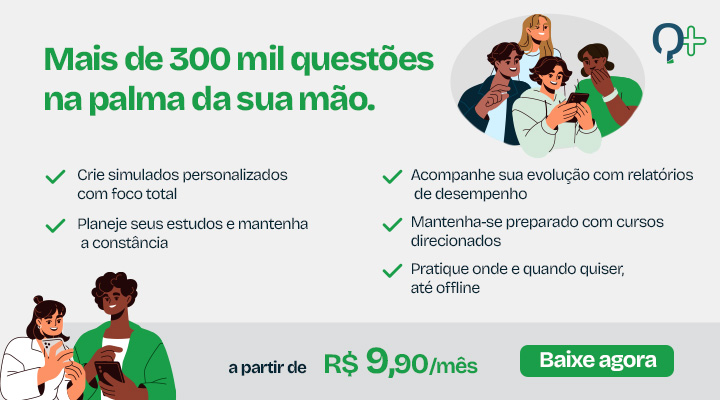A Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais, publicada em 1989 pela Organização Internacional do Trabalho, é amplamente conhecida por fundamentar o debate que envolve o trabalho dos antropológos em instâncias do judiciário.
Nos dois parágrafos do Art. 10 dessa convenção, afirma-se o seguinte:
1. Quando sanções sejam impostas pela legislação geral amembros dos povos mencionados, deverão ser levadas em conta as suas características econômicas, sociais e culturais.
2. Dever-se-á dar preferência a tipos de punição outros que o encarceramento.
O procedimento que poderá ser solicitado ao antropólogo em situações envolvendo acusações criminais e minorias étnicas é o(a):
Leia o trecho abaixo do artigo “Natureza & Cultura, versãoamericanista – Um sobrevoo”, de Renato Sztutman.
“(…) seres não humanos que se veem sob forma humana deveriam ver os humanos sob forma não humana, uma vez que a humanidade é uma posição e não uma substância, uma propriedade intrínseca a certa porção de seres. Um porco do mato, por exemplo, se vê como humano enquanto vê o humano como jaguar ou como espírito predador. Ora, todos esses existentes são, potencialmente, humanos (partilham a mesma
condição de humanidade [humanity]) apesar de não serem todos da espécie humana (humankind). São todos sujeitos dotados de
comportamento, intencionalidade e consciência, estando inseridos em redes de parentesco e afinidade, fazendo festas, bebendo cauim, reportando-se a chefes, fazendo guerra, pintando e decorando seus corpos. O que está em jogo, aqui, portanto, é a diferença entre perspectivas, o que nos envia a uma filosofia ameríndia da diferença.”
Esse trecho descreve o modo de relação entre humanos e não humanos característico da forma de pensamento ameríndio
denominada:
No primeiro dia, foi colocada uma panela de barro no centro do barracão, a qual representava o espírito do morto presente na sala. Aqueles que dançavam depositavam moedas ao passarem junto dela e, ao seu redor, milho branco, mel, água, acaçás, cachaça. No segundo dia, os ogãs, antes de iniciar a cerimônia, caminharam pelo corredor formado pelas casas, batendo com longas varas de bambus nos seus beirais, até alcançarem o portão de entrada. No terceiro dia, quatro pessoas, as mais influentes do culto, carregaram um lençol, que aparentemente continha um corpo em seu interior. No entanto, esse corpo era formado por folhas verdes de plantas, que foram derramadas sobre uma pessoa.
MANZOCHI, H. M. Axexe, um rito de passagem. Revista do Museu
de Arqueologia e Etnologia, n. 5, 1995 (adaptado)
O ritual brasileiro apresentado no texto representa, para seus adeptos, a
No início do seu ensaio “Mercadorias e a política de valor”, o antropólogo Arjun Appadurai explicita um dos seus objetivos:
“[…] propor uma nova perspectiva sobre a circulação de mercadorias na vida social. Tal perspectiva pode ser sintetizada da seguinte forma: a troca econômica cria o valor; o valor é concretizado nas mercadorias que são trocadas; concentrar-se nas coisas trocadas, em vez de apenas nas formas e funções da troca, possibilita a argumentação de que o que cria o vínculo entre a troca e o valor é a política, em seu sentido mais amplo.”
Com esse argumento, Arjun Appadurai propõe como novo objeto de análise da antropologia:
O antropólogo Victor Tuner é autor da frase: “O drama daestrutura e antiestrutura termina no palco da cultura”. Acontribuição desse autor britânico para a antropologia dasegunda metade do século XX é notável.
As pesquisas de Victor Turner contribuem principalmente para a antropologia:
As relações entre antropologia e instituições museais são de longa data. Nas últimas décadas, debates críticos feitos por antropólogos e também por grupos que usualmente são objeto de museus etnográficos culminaram em um movimento renovador. Como bem descreveu a antropóloga Regina Abreu:
“Um movimento de entrada em cena de representantes indígenas em museus etnográficos em todo o mundo se afirmou como resultado de movimentos e reivindicações indígenas. Os povos indígenas descobriram os museus e as práticas museológicas, o que abriu espaço para a dinamização dos acervos com novas informações e a atualização das pesquisas sobre os objetos. Além disso, foi também em virtude da descoberta dos museus pelos índios que eles próprios começam a 'reaprender’ ofícios e práticas já desaparecidos em seus territórios. Os museus etnográficos com seus acervos e o acúmulo de suas pesquisas passaram a ser vistos como fontes de pesquisa e estudo para os próprios povos indígenas.”
A perspectiva teórica contemporânea que tem contribuído para a renovação do debate sobre a atuação de grupos indígenas em
museus é o:
Leia o trecho abaixo, extraído de um artigo de Maria Eunice Maciel e Regina Abreu, publicado em 2019:
“A cultura material tem sido um dos focos da antropologia desde os primórdios. No contexto dos pioneiros, coletar objetos em pesquisa de campo configurava uma maneira de atestar ou de exibir a prova material viva dos grupos estudados e de suas diferentes culturas. Muitos museus antropológicos ou etnográficos tornaram-se repositórios de práticas de colecionamento em grande escala e voltadas para esse fim no
contexto de uma lógica positivista do conhecimento. O estranhamento com as diferentes alteridades pesquisadas implicou essa grande empreitada de juntar coisas que representassem ou expressassem as primeiras pesquisas antropológicas.”
A prática de colecionar e expor em museus objetos coletados durante expedições etnográficas está relacionada ao processo histórico-político denominado:
A Resolução CNJ Nº 287, publicada em 2019, estabeleceprocedimentos para o tratamento das pessoas indígenas acusadas, rés, condenadas ou privadas de liberdade, e dá diretrizes para assegurar os direitos dessa população no âmbito criminal do Poder Judiciário. Nesse texto lemos o seguinte trecho:
“Art. 7º A responsabilização de pessoas indígenas deverá considerar os mecanismos próprios da comunidade indígena a que pertença a pessoa acusada, mediante consulta prévia. Parágrafo único. A autoridade judicial poderá adotar ou homologar práticas de resolução de conflitos e de responsabilização em conformidade com costumes e normas da própria comunidade indígena, nos termos do Art. 57
da Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio).”
O artigo citado está em consonância com o seguinte tema amplamente debatido no campo das relações entre antropologia e direito:
Em um dos seus artigos, o antropólogo José Reginaldo Gonçalves discute os chamados “bens inalienáveis”. Diz ele:
“Os interesses mobilizados pela possibilidade de comprar e vender livremente determinados bens eram vistos como um meio nefasto de descaracterização desses bens e de perda de sua autenticidade. A busca da autenticidade confundia-se, de certo modo, com uma constante e obsessiva proteção contra os efeitos de mercado.”
Essa reflexão ajuda a problematizar a oposição entre as seguintes arenas de valoração:
A antropóloga brasileira Fabiola Rohden, em um artigo publicado em 2002 e dedicado às contribuições de Marilyn Strathern sobre o tema do parentesco, escreveu:
“Os sistemas de parentesco e as formas de família são pensados como arranjos sociais que têm como base a reprodução biológica. Esses arranjos são vistos como passíveis de assumirem formas diversificadas em culturas e sociedades diferentes, embora sempre assentados sobre uma mesma e única referência, que são os ‘fatos naturais’ da vida.”
Ao apresentar a discussão sobre parentesco, Rohden faz referência ao seguinte dualismo caro aos debates da antropologia contemporânea:
A etnografia é o principal método e forma de escrita da antropologia.
Entre os seus preceitos fundamentais, destacam-se:
Leia o trecho abaixo, escrito em 1978 por Roberto da Matta, em
“O ofício de etnólogo, ou como ter anthropological blues”: “Por anthropological blues se quer cobrir e descobrir, de um modo mais sistemático, os aspectos interpretativos do ofício do etnólogo. Trata-se de incorporar no campo mesmo das rotinas oficiais, já legitimadas como parte do treinamento do antropólogo, aqueles aspectos extraordinários ou carismáticos, sempre prontos a emergir em todo relacionamento humano. De
fato, só se tem antropologia social quando se tem de algum modo o exótico, e o exótico depende invariavelmente da distância social, e a distância social tem como componente a marginalidade (relativa ou absoluta), e a marginalidade se alimenta de um sentimento de segregação e a segregação implica estar só e tudo desemboca ̶ para comutar rapidamente essa longa cadeia ̶ na liminaridade e no estranhamento.”
Nesse texto, Roberto da Matta faz referência ao princípio de:
Em seu artigo "História e Etnologia. Lévi-Strauss e os embates em região de fronteira”, publicado em 1999, a antropóloga Lilia Schwarcz comenta:
“Tendo como objetivo chegar às estruturas inconscientes e universais, que impõem formas a diferentes conteúdos, Lévi Strauss escolhia aliados e falava de seus trunfos: ‘Na linguística e na etnologia não é a comparação que fundamenta a generalização, mas sim o contrário.’”Levi-Strauss elaborou suas reflexões sobre as relações entre linguística e etnologia a partir do material dos(da):
Em seu artigo “O futuro nos laudos antropológicos”, oantropólogo Paulo Santini afirma:
“Com respeito ao reconhecimento oficial de direitos territoriais indígenas — em que a delimitação substantiva de um território é exigida para o cumprimento do artigo 231 da Constituição —, a primeira, senão a única atribuição legal de antropólogos é a de empreender e coordenar os estudos dos grupos técnicos instituídos para proceder à identificação e à delimitação das terras ocupadas tradicionalmente pelos índios; requere-se dos especialistas que tracem e demonstrem a continuidade entre povos pré-colombianos e populações atuais.”A realização de um laudo antropológico pressupõe o emprego detécnicas de pesquisa consagradas pela disciplina.
A técnica de pesquisa antropológica, indispensável na produção de laudos, que permite ao técnico acessar a realidade social em questão, entrar em contato com o grupo pesquisado e conhecer suas singularidade é(são) o(s):
Em 2005, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tombou o ofício das baianas de acarajé no Livro dos Saberes. Diz o site do Iphan:
“Este bem cultural […] consiste em uma prática tradicional de produção e venda, em tabuleiro, das chamadas comidas de baiana, feitas com azeite de dendê e ligadas ao culto dos orixás, amplamente disseminadas na cidade de Salvador, Bahia.”
O IPHAN define a natureza desse bem cultural como: